SUPREMACISTAS PARDOS OU QUASE BRANCOS?
Vitor de Athayde Couto
Pós Doutor pela Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne
O RACISMO
Doença de alta complexidade e pouco conhecida, o racismo ainda não tem cura nem vacina. Uma “vacina antirracista” requer décadas, talvez séculos, para que possa ter efeito benéfico na consciência das gerações que ainda estão longe de nascer – porque as gerações nascidas já têm o caráter formado como ferro frio. Inútil malhar.
Etienne Balibar, estimado professor na Universidade de Paris, perguntava à nossa turma de mestiços do mundo inteiro: de onde vem o racismo? Onde, quando e como se formou o conceito de racismo? Ele acreditava que o conceito teria sido cunhado pelo médico alemão Magnus Hirschfeld, por volta de 1933, quando descrevia a sua “teoria racial”, que serviu de base para a guerra hitlerista das raças. O seu primeiro objeto era o racismo antissemita do Estado nazista, embora se reportasse também a outros povos e raças “inferiores”. Tudo em nome do mito do arianismo que, ainda hoje, impulsiona fanáticos e extremistas em ações de violência e preconceito.
Reagindo a essa concepção racista, Claude Lévi-Strauss afirma que a humanidade não se desenvolve sob o regime de uma monotonia uniforme (como era a China maoísta, por exemplo). O desenvolvimento só é possível através de modos extraordinariamente diversificados de sociedades e civilizações. E mais: essa diversidade intelectual, estética e sociológica não tem nada a ver com o plano biológico.
Um recém-nascido no seio de uma família racista, ou de qualquer outro grupo sob um mesmo teto, tem o seu caráter (de)formado pela companhia tóxica dos pais ou responsáveis, embora a maioria da população pobre brasileira se reproduza no colo de um “grande matriarcado”, na definição de Darcy Ribeiro. A dialética da natureza e da vida social deu à mãe solteira a penosa missão de ser pai e mãe. Na luta pela sobrevivência, essas mães heróicas não compreendem e sequer têm tempo para praticar e difundir o racismo estrutural. Djamila Ribeiro acertou na jugular: esse discurso é das elites brancas brasileiras, que se equilibram entre a cegueira social e uma forma de amnésia coletiva.
Albert Jacquard resumiu a sociopatia racista com tanta precisão que a sua frase angular, de tão perfeita, parece um desenho facim facim para aqueles que não querem entender: “o racismo é uma patologia do pensamento”. Portanto, com a palavra os psis, co-terapeutas da alma, profissão com futuro garantido.
RACISMO EM PARNAÍBA
Indo direto ao propósito deste artigo, a pergunta que se faz é:
– Quanto tempo será necessário para que a correção das injustiças raciais históricas chegue a Parnaíba? Até quando trataremos escravocratas parnaibanos como heróis? Até onde devemos acreditar em fake news coloniais, recheadas com histórias de tapetes de ouro e de recém-nascidos atirados às onças?
Ora, vejam só. A casa grande ficou pequena! Em meio à pandemia, a humanidade assiste ao avanço de movimentos contrários ao racismo estrutural. Esses movimentos se aceleraram logo após a morte de George Floyd. Atingindo, a cada dia, um número crescente de países, um mar de gente destrói símbolos. ‘Stamos em pleno mar, disse o poeta profeta. Ou seja, estamos em pleno século XIX:
“Ó mar, por que não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão?…
E as vagas após ele correm… cansam
Como turba de infantes inquieta.”
(Castro Alves, O navio negreiro)
Trocando de posição um algarismo romano, transita-se rapidamente do século XIX para o XXI, quando nada parece ter mudado. Ainda. No mundo minimamente civilizado, as turbas de infantes inquietas já começam a destruir estátuas e outros símbolos que ainda homenageiam traficantes, comerciantes, sonegadores, contrabandistas, proprietários, castigadores e torturadores de escravos.
No Brasil colonial e, até ontem, no segundo império, exploravam-se escravos índios e negros. A rigor, até hoje. Basta atribuir a essa estúpida forma de trabalho compulsório o sutil apelido de “análogo ao trabalho escravo”. São incontáveis os registros, denúncias, processos e até condenações por todo o Brasil, tanto rural quanto urbano. Confecções, agronegócio, pedreiras, garimpos, olarias, carvoarias… além do assédio moral praticado por “empresários” do setor de serviços. Só no ano passado, foram mais de mil trabalhadores resgatados em solo dito pátrio.
Não me lembro de ter visto estátuas de escravocratas em Parnaíba. Tampouco estou propondo a sua destruição, caso existam. Elas e outros símbolos devem ser retirados e ir para um museu, onde serão ressignificados a bem da verdade e da história. Lembro apenas que, na cidade, circula a ilustração tosca e deformada (e não menos feia do que a estátua de Borba Gato, em São Paulo) de uma pintura que retrata um certo Simplício Dias da Silva, tido como herói de uma independência que até hoje desconheço – a menos que alguém consiga me convencer que independência é ter um hino e uma bandeira. Sim, porque nem território existe mais. Ou então existe, mas deixou de ser soberano.
SUB-HERÓIS PARNAIBANOS
Em quantos livros escolares ainda se lêem verdadeiros sambas-exaltação em homenagem a sub-heróis, com direito a casamento da princesa Leopoldina com Tiradentes, à la Stanislaw Ponte Preta? Quantos nomes de ruas nas cidades brasileiras ainda homenageiam bandeirantes e outros mercenários como o almirante Lord Cochrane?
Quantos sub-heróis submeteram seus escravos à guerra e à morte, sem nenhum treinamento ou aparato militar mínimo? Quantos deles enriqueceram tanto, que, pressentindo o fim da vida através de suas narinas, sensíveis ao odor de chifre queimado, foram forçados a fazer filantropia? Sim, o inferno existe. E a ideia da existência do inferno é uma das maiores criações de Deus, que jamais escondeu de ninguém o principal postulado do seu projeto: “sem o medo, eles nunca viriam a Mim”.
Minha cor não é meu lugar de fala. Na UFBA, minha primeira Universidade, ouvi do professor baiano Muniz Sodré, o seguinte: “no início da carreira, o professor ensina o que sabe; depois, ele ensina o que não sabe.” É que, com o tempo, o verdadeiro professor vai-se tornando pesquisador. Curioso, reconhece que não sabe – é o primeiro passo para a pesquisa. Depois, levanta questões para serem verificadas, com método.
Por exemplo: qual a contribuição do tal Simplício Dias da Silva na atividade pedagógica para que seja homenageado dando nome a uma escola? Qual a contribuição dele e de outros tantos sub-heróis para a infraestrutura de Parnaíba, a ponto de merecerem seus nomes em ruas, praças, pontes e parques? Qual o seu legado para a cidadania, para a segurança, saúde, cultura e bem-estar dos parnaibanos? Como eles acumularam suas fortunas? Se eles vieram apenas ganhar dinheiro, seria essa a explicação para que abandonassem a cidade onde enriqueceram, inclusive os seus descendentes, deixando para trás incontáveis ruínas onde os turistas vêm fazer selfies?
Neste momento, historiadores estão mapeando bustos, estátuas, quadros e monumentos em várias cidades do mundo. O objetivo é ressignificar esses e outros símbolos à luz dos registros autênticos disponíveis, depoimentos (história oral) e outros recursos metodológicos. Para serem cientificamente reconhecidos, esses recursos devem ser praticados de um ponto de vista crítico e independente, sob pena de não se sair do mesmo lugar.
Cadê os historiadores de Parnaíba? Graças aos cursos de História, já se pode dizer que Parnaíba dispõe de uma massa crítica, desde que esses profissionais, agora cada vez mais requisitados, se afastem da falsa heráldica, e de uma espécie de cultura de almanaque, típica das cidades interioranas do Brasil. O almanaque charadístico, encontradiço no Nordeste do século XIX, é o ponto de partida crítico do livro “A Pedra do Reino” dos Ferreira-Quaderna, escrito pelo gênio dramaturgo Ariano Suassuna. Ao trocar o leão pela onça pintada, a bandeira por um couro de bode, e a armadura medieval pelo gibão do vaqueiro, Suassuna restaura a verdade. Em outras palavras, substitui a heráldica mítica, mágica, enigmática e enganosa pela maior de todas as ciências – a História.
Sub-heróis tragicômicos. Desprezam a onça pintada em favor de leões estrangeiros. Desprezam santeiros em favor de esculturas industriais de arremedo greco-romano mêidinchina. Trocam o couro de bode pela Old Glory. Assim procedendo, regridem ao mito. Fosse uma burleta, seria apenas cômico e divertido imaginar Suassuna assistindo a manifestações de pobres de extrema direita e mestiços racistas. E ri-se Satanás!

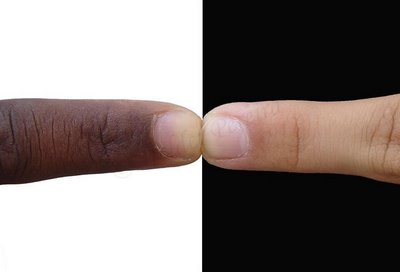

Comments are closed.